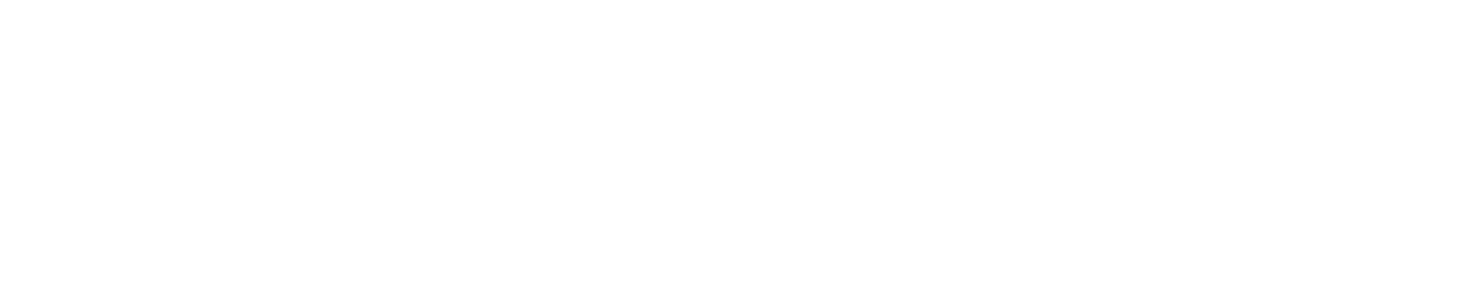Em comemoração aos 250 anos de nascimento de Vicente Coelho de Seabra, considerado o primeiro químico moderno nos países de língua portuguesa, o Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) dedicou a ele a 3ª edição dos Simpósios Temáticos da Pós-Graduação em Química na cidade de Belo Horizonte (MG) entre 11 e 14 de novembro, com a participação de profissionais de universidades e instituições de todo o País.
Vicente Coelho de Seabra Silva Telles, mais conhecido por Vicente Seabra, nasceu em 1764 na cidade de Congonhas do Campo (MG). Após a sua iniciação científica no Brasil, Seabra foi para a Universidade de Coimbra, em Portugal, aos 19 anos, e lá se graduou em Filosofia Natural e Medicina, tornando-se professor da instituição. Ele foi o autor do primeiro tratado de química moderna em língua portuguesa, os Elementos de Química, publicados em 1788-90, e publicou uma dissertação sobre o calor, que é o texto fundador de termodinâmica em português. Seabra também foi o autor da Nomenclatura Química Portuguesa, usada em boa parte até hoje.
O seminário foi organizado a fim de recuperar a memória do período, e o diretor-presidente do IPT, Fernando Landgraf, ministrou no dia 14 a palestra ‘O engenheiro metalurgista José Bonifácio’, contemporâneo de Seabra em Portugal. Landgraf comentou em sua apresentação que uma das profissões de Bonifácio antes de se tornar político foi a de metalurgista – ele não se considerava ‘engenheiro’. Em 1790 o governo português enviou três bolsistas, entre eles Bonifácio, para acompanhar cursos de química e mineralogia em Paris, um curso completo de Minas em Freiberg e visitas à minas da Saxônia, Boêmia, Rússia, Suécia, Noruega e Inglaterra, Escócia, País de Gales e Cornualha.
Bonifácio foi o primeiro a usar a palavra ‘tecnologia’ na língua portuguesa, em dois artigos associados à Academia de Ciências. Nos dois artigos ele inclui a tecnologia em listas de coisas importantes, mas sem explicitar o significado da palavra – se tecnologia é a junção da técnica com a ciência, Bonifácio teve a oportunidade de reunir as duas ao voltar para Portugal, na primeira década do século XIX. O governo português, sob a égide do ministro Rodrigo de Souza Coutinho, deu-lhe um grande número de atribuições, sendo três diretamente ligadas à metalurgia: dar aulas em Coimbra, extrair carvão mineral e reestabelecer a siderurgia.
Em 1801, por exemplo, ele recebeu a incumbência de recuperar a Ferraria da Foz do Alge, na qual haviam sido instalados dois altos fornos que haviam operado intermitentemente até 1759. Esse empreendimento foi o principal esforço português para fabricação de ferro na primeira década do século XIX. Os fornos foram reconstruídos, técnicos alemães foram contratados para sua operação e os fornos produziram peças de ferro fundido e ferro refinado em barras, mas mudanças políticas tiveram repercussões no interesse e na capacidade de investimento do governo no empreendimento siderúrgico, afetando a participação de Bonifácio.
VOLTA AO BRASIL – Na segunda década do século XIX, as únicas manifestações metalúrgicas de Bonifácio estão ligadas à publicação de textos escritos anteriormente. Somente após sua volta ao Brasil, em 1820, é que surge a oportunidade de vê-lo em ação, ainda que apenas analítica. Atendendo ao convite da corte portuguesa, o alemão Frederico Varnhagen havia assumido, em 1815, a construção de dois altos fornos geminados e duas forjas de refino na Real Fábrica de Ferro de Ipanema, já tinha conduzido duas campanhas de teste, uma delas de três meses ininterruptos, e convidou Bonifácio a visitar as instalações enquanto aguardava a chegada de operários estrangeiros experientes para as operações.
O texto intitulado ‘A Memória Econômica e Metalúrgica sobre a Fábrica de Ferro Ipanema’ foi escrito por Bonifácio em 1820 logo após a sua visita. Ele não viu os altos fornos em operação, mas deve ter conversado e analisado os dados mostrados por Varnhagen. O documento critica a represa e os fornos construídos pelo primeiro diretor sueco, os fornos construídos pelo novo diretor, o seu elevado consumo de carvão, a arquitetura dos altos-fornos, o fundente escolhido, o carvoejamento e o uso de cavaco de peroba, entre outros pontos.
“O saber do Bonifácio metalurgista transparece no texto no uso do conhecimento da época sobre o fluxo de massa no interior do alto-forno para criticar a geometria interna e a carga de matéria prima”, afirma Landgraf. “A leitura nos mostra uma análise dura, muito crítica, e em alguns trechos traz um viés de ‘dono da verdade’, mas o aspecto mais importante da memória escrita por ele ainda está aberto para investigação”.
Vicente Coelho de Seabra Silva Telles, mais conhecido por Vicente Seabra, nasceu em 1764 na cidade de Congonhas do Campo (MG). Após a sua iniciação científica no Brasil, Seabra foi para a Universidade de Coimbra, em Portugal, aos 19 anos, e lá se graduou em Filosofia Natural e Medicina, tornando-se professor da instituição. Ele foi o autor do primeiro tratado de química moderna em língua portuguesa, os Elementos de Química, publicados em 1788-90, e publicou uma dissertação sobre o calor, que é o texto fundador de termodinâmica em português. Seabra também foi o autor da Nomenclatura Química Portuguesa, usada em boa parte até hoje.
O seminário foi organizado a fim de recuperar a memória do período, e o diretor-presidente do IPT, Fernando Landgraf, ministrou no dia 14 a palestra ‘O engenheiro metalurgista José Bonifácio’, contemporâneo de Seabra em Portugal. Landgraf comentou em sua apresentação que uma das profissões de Bonifácio antes de se tornar político foi a de metalurgista – ele não se considerava ‘engenheiro’. Em 1790 o governo português enviou três bolsistas, entre eles Bonifácio, para acompanhar cursos de química e mineralogia em Paris, um curso completo de Minas em Freiberg e visitas à minas da Saxônia, Boêmia, Rússia, Suécia, Noruega e Inglaterra, Escócia, País de Gales e Cornualha.
Bonifácio foi o primeiro a usar a palavra ‘tecnologia’ na língua portuguesa, em dois artigos associados à Academia de Ciências. Nos dois artigos ele inclui a tecnologia em listas de coisas importantes, mas sem explicitar o significado da palavra – se tecnologia é a junção da técnica com a ciência, Bonifácio teve a oportunidade de reunir as duas ao voltar para Portugal, na primeira década do século XIX. O governo português, sob a égide do ministro Rodrigo de Souza Coutinho, deu-lhe um grande número de atribuições, sendo três diretamente ligadas à metalurgia: dar aulas em Coimbra, extrair carvão mineral e reestabelecer a siderurgia.
Em 1801, por exemplo, ele recebeu a incumbência de recuperar a Ferraria da Foz do Alge, na qual haviam sido instalados dois altos fornos que haviam operado intermitentemente até 1759. Esse empreendimento foi o principal esforço português para fabricação de ferro na primeira década do século XIX. Os fornos foram reconstruídos, técnicos alemães foram contratados para sua operação e os fornos produziram peças de ferro fundido e ferro refinado em barras, mas mudanças políticas tiveram repercussões no interesse e na capacidade de investimento do governo no empreendimento siderúrgico, afetando a participação de Bonifácio.
VOLTA AO BRASIL – Na segunda década do século XIX, as únicas manifestações metalúrgicas de Bonifácio estão ligadas à publicação de textos escritos anteriormente. Somente após sua volta ao Brasil, em 1820, é que surge a oportunidade de vê-lo em ação, ainda que apenas analítica. Atendendo ao convite da corte portuguesa, o alemão Frederico Varnhagen havia assumido, em 1815, a construção de dois altos fornos geminados e duas forjas de refino na Real Fábrica de Ferro de Ipanema, já tinha conduzido duas campanhas de teste, uma delas de três meses ininterruptos, e convidou Bonifácio a visitar as instalações enquanto aguardava a chegada de operários estrangeiros experientes para as operações.
O texto intitulado ‘A Memória Econômica e Metalúrgica sobre a Fábrica de Ferro Ipanema’ foi escrito por Bonifácio em 1820 logo após a sua visita. Ele não viu os altos fornos em operação, mas deve ter conversado e analisado os dados mostrados por Varnhagen. O documento critica a represa e os fornos construídos pelo primeiro diretor sueco, os fornos construídos pelo novo diretor, o seu elevado consumo de carvão, a arquitetura dos altos-fornos, o fundente escolhido, o carvoejamento e o uso de cavaco de peroba, entre outros pontos.
“O saber do Bonifácio metalurgista transparece no texto no uso do conhecimento da época sobre o fluxo de massa no interior do alto-forno para criticar a geometria interna e a carga de matéria prima”, afirma Landgraf. “A leitura nos mostra uma análise dura, muito crítica, e em alguns trechos traz um viés de ‘dono da verdade’, mas o aspecto mais importante da memória escrita por ele ainda está aberto para investigação”.